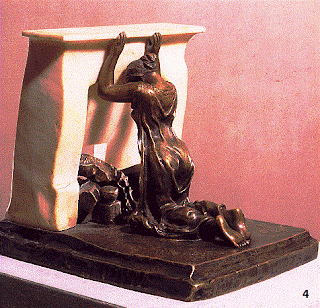ICONOGRAFIA DO ÍNDIO BRASILEIRO NA
ARTE QUINHENTISTA PORTUGUESA
Carlos
Rodarte Veloso
Publicado n' "O
Templário” de 9-2-2017
A
odisseia dos Descobrimentos portugueses, ainda hoje bem viva no imaginário
português, marcou profundamente os espíritos da época e, assim, os seus
artistas. Pondo de parte as influências marítimas que alguns autores pensaram
detectar no estilo Manuelino numerosos vestígios iconográficos foram deixados
na arte quatrocentista e quinhentista portuguesa revelando o assombro que esse
encontro de culturas provocou nos ânimos mais criativos. Foi preciso rever
numerosos conceitos tradicionais para enquadrar os novos conhecimentos — ainda
empíricos — que chegavam em catadupa: novas terras exigiam uma nova Geografia,
novas plantas e novos animais pediam nova Botânica e nova Zoologia, mas acima
de tudo, as novas Gentes, agora
desmitificadas, exigiam uma autêntica revolução mental, ainda hoje por
completar… Não nos competindo um fácil juízo de valor sobre tais insuficiências
poderemos, no entanto, reconhecer o quanto a descoberta do outro marcou desde então as Artes e as Letras.
Os
povos africanos e asiáticos eram já “conhecidos” dos europeus, ou directamente,
nas “áreas de contacto” — Norte de África e Próximo Oriente —, ou através de
toda uma tradição nascida dos relatos de viagens, tendo como paradigma o
célebre Livro de Marco Polo. Esses relatos, por muito objectivos que
parecessem, incluíam sempre descrições fantasiosas obtidas “em segunda mão” e,
por isso, não é de admirar que, a par de informações fidedignas, se descrevessem
seres monstruosos e com monstruosos hábitos habitando as zonas ainda não
atingidas pelos europeus, assim nascendo uma autêntica mitologia das terras
remotas. Mas, à medida que as quilhas das naus iam avançando, a realidade
revelava-se em todo o seu esplendor, ultrapassando por vezes as mais loucas
suposições, com uma só — e importante — restrição: independentemente da cor da
pele ou dos costumes, os povos que foram sendo “descobertos” pertenciam única e
exclusivamente a uma espécie, a humana…
Essa constatação não impediu, como sabemos, todo o cortejo de horrores trazidos
pelo domínio colonial, e essa pesada herança ainda hoje envenena as relações
entre os povos e, como bem sabemos, o seu próprio viver na actualidade…
Relativamente
aos povos da América, o caso era bem diferente. Sendo incerto que as viagens
dos normandos tivessem deixado memória efectiva entre os europeus, o Novo Mundo
era apenas imaginado em cartas representando fantasiosos arquipélagos ou ilhas
isoladas espalhadas pelo Atlântico ocidental, cujos nomes míticos — “Antilia”,
“Sete Cidades”, “Himadoro”, “Ymana”, “Satanazes”, “Seluaga”, “Brasil” …—,
foram, nalguns casos, mais tarde aproveitados para baptizar terras bem reais…
A
presença de figuras humanas desnudas, cobertas de folhas ou de peles, como
“tenentes” heráldicos, ou entre a decoração esculpida de obras góticas,
tardo-góticas e renascentistas existentes em Portugal, levou alguns
investigadores a considerá-las consequência directa da expansão marítima. Em
Tomar, no Convento de Cristo, estão representados nada menos do que dezasseis
casais. No entanto, a verdade é que tais representações se integram numa velha
tradição artística europeia, a dos “homens selvagens” e dos “homens
silvestres”— os primeiros, vestidos com peles, como podemos ver no retábulo-mor da Sé Velha de Coimbra,
trabalho dos entalhadores flamengos Olivier de Gand e Jean d’Ypres (Fig. 1), os outros, com folhas —
“arquétipo mítico por excelência, que povoara a imaginação medieval”. Estas
criaturas são contraditórias por excelência,
pois tanto podem representar os instintos primários, animalescos, as forças
cegas da natureza — o Caos — anteriores ao Cristianismo como força organizadora
e civilizatória do mundo — assim tornado Cosmos —, como uma alternativa válida
para os males da civilização, convidando a uma aproximação à natureza e a um
certo primitivismo — hoje diríamos “ecologista” — defendido por novas doutrinas
filiadas no mito da “Idade do Ouro”, provavelmente na origem do mito do “bom
selvagem”.
A primeira das fontes iconográficas que explicitamente
representam os índios do Brasil é a cartografia, onde imagens exóticas mas nem
por isso menos expressivas, representam, além de fauna e flora nativas, índios
nus em trabalhos diversos, com um realismo que só se pode dever à observação
directa ou ao testemunho de navegadores encontrando-se, contudo, nestas
últimas, representações altamente fantasiosas de um aldeamento e de cenas de
antropofagia, em que é nítida a intromissão da ideologia que então se
construía, relativamente ao “selvagem” da América do Sul. Estas referências
gráficas estão em consonância com “descrições” desde o início do século XVI
divulgadas pela Europa, com possível origem numa carta de Américo Vespúcio a
Lourenço de Médicis — Mundus Novus —, narrando costumes
canibais de uma brutalidade e vulgaridade em nada correspondentes ao
canibalismo ritual na verdade praticado pelos índios brasileiros. Também em pinturas de gosto já
renascentista posteriores à descoberta do Brasil, nos poucos casos chegados aos
nossos dias, se detecta grande dissonância relativamente aos sentimentos
despertados nos respectivos artistas.
Assim,
na Adoração
dos Magos (Fig. 2) de Vasco Fernandes, de
cerca de 1502, o rei mago negro, tradicionalmente designado como Baltasar, é
substituído por um índio brasileiro tupinambá adornado com traje de folhas e
coberto com o respectivo cocar emplumado “no que será a primeira representação
europeia de um aborígene americano claramente
conotado com a simbologia benfazeja dos povos pré-diluvianos desprovidos
de Pecado Original, numa posição bem humanística”, no dizer de Vítor Serrão. No
Calvário
do mesmo artista, pintado c.1535-40 (Fig. 3), o Bom Ladrão é representado com feições e cabeleira que o
identificam inequivocamente como um índio brasileiro, “numa nova
reinterpretação humanística dos povos recém colonizados pelas Descobertas
ligados a um sentido evangélico do Bem”. Em ambos os casos, como é óbvio, a
imagem do Índio encontra-se identificada com o Bem.
Já
no famoso Inferno do Museu
Nacional de Arte Antiga de Lisboa (Fig. 4),
pintado c.1515 por Jorge Afonso, surge um índio brasileiro reconhecível pelos
seus atavios tradicionais, a presidir ao suplício dos condenados na qualidade
do próprio rei dos Infernos, enquanto um outro diabo também vestido com penas
multicolores, transporta às costas um frade luxurioso!…
Um longo caminho fora percorrido desde que a Carta de Pero Vaz de Caminha abrira as mais
animadoras perspectivas, nas relações entre os Portugueses e Ameríndios,
apresentados estes na sua simplicidade total, na sua inocência mais
transparente, livres ainda do próprio pecado original, num paraíso perdido…
Navegadores e Jesuítas alimentaram desde logo essa ideia idílica, mais tarde
institucionalizada no quadro do Iluminismo pelo mito do “bom selvagem”, terreno
virgem para a sementeira da Fé. O próprio Caminha expressa essa ideia:
“Parece-me gente de tal inocência que, se os homem entendesse e eles a nós, que
seriam logo cristãos, porque eles nem entendem em nenhuma crença, segundo
parece.”
Embora esta última suposição não correspondesse à
verdade, a Igreja jogou forte no Gentio brasileiro: em 1537, Paulo III
reconhecia a racionalidade e a habilitação destes “selvagens” para a Fé
católica, não admitindo que eles fossem privados da liberdade. Nascia assim a
questão que desde então opôs a Igreja, especialmente representada neste
particular pela Companhia de Jesus, aos colonos, os quais não concebiam sequer
a hipótese de se verem assim privados de tão grande número de potenciais
escravos. Este conflito viria a arrastar-se, penosamente, até ao consulado de
Pombal.
Os
interesses dos colonos, interessados em tirar o apoio da Igreja a esta
mão-de-obra tão apetecível para as suas plantações, assim como a literatura
europeia que, como vimos, desde cedo manifestou interesse na exploração e
manipulação dos aspectos mais abomináveis atribuídos aos “selvagens”
ameríndios, contribuíram para diabolizar os nativos do Novo Mundo e, assim, pôr
em confronto com as teses — também não verdadeiras —dos seus defensores, as
mais infamantes deturpações de uma cultura com demasiadas diferenças em relação
à da “civilizada” Europa…